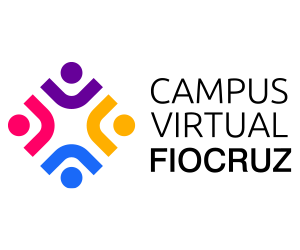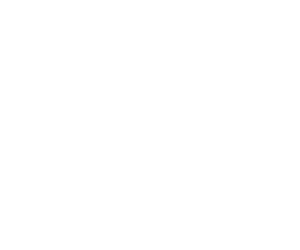Módulo 1 | Aula 2
letramento racial para trabalhadores do sus
Mito da democracia racial
Dizer que vivemos em uma democracia racial, a rigor, significaria termos uma sociedade sem barreiras legais ou institucionais para a igualdade racial e sem manifestações de preconceito e discriminação. Logo, é um relato fantasioso e ficcional de tradição oral dizer que vivemos em uma democracia racial no Brasil. O que temos no país é uma igualdade formal (na lei), instalada com o fim da escravidão, mas que não se concretiza, de modo que, incontestavelmente, vivemos uma sociedade hierarquizada racialmente.
Não há sustentação histórica para as afirmações que supostamente dariam a base para a existência de uma democracia racial no Brasil, daí o seu tratamento como um “mito” de democracia racial, pois falseia a realidade.
Vamos situar brevemente o contexto histórico em que o Brasil se tornou um Estado Nacional, a fim de qualificar o seu entendimento sobre a quem serve e as implicações do mito da democracia racial.
-
A proclamação da independência se deu no ano de 1822. Neste momento, a maioria dos trabalhadores brasileiros era escravizada. Este é um país que se torna politicamente emancipado tendo como base econômica a escravidão e o latifúndio (Fernandes, 1976).
A independência do Brasil não se deu em um processo revolucionário clássico, como visto em outras colônias. Aqui o que ocorreu foi um “acordo” entre a monarquia e a burguesia brasileira, um tipo de independência dentro da ordem. Com isso, foi anulada a possibilidade de participação popular no processo de independência, assim como a possibilidade de construção de ideias efetivamente republicanas. A independência brasileira é o marco do rompimento do nosso estatuto de colônia, contudo, esse “rompimento” não alterou as condições internas da ordem social vigente que não tinha nenhum compromisso com a justiça social.
-
No Brasil, o surgimento do “novo”, a realização da mudança e da “modernização” aconteceram de forma a garantir a continuidade do “antigo”, da conservação de estruturas econômicas baseadas no trabalho escravo, no latifúndio, na concentração de renda e na concentração do poder nas mãos da elite brasileira. Logo, os elementos que justificariam a existência de uma democracia racial no Brasil são um mito.
-
Nesse processo, o racismo é uma base importante na sustentação de estruturas que impedem uma real modernização. Entre a independência e a abolição da escravidão passaram-se quase 70 anos e, na transição para uma sociedade de mercado e competitiva, a força de trabalho negra não foi absorvida pelo dito mercado livre de trabalho. Por outro lado, incentivo político e recursos foram dados aos imigrantes brancos europeus como projeto e política de branqueamento.
-
No pós-abolição, a ideia de “democracia racial” serviu como retaguarda argumentativa para o não enfrentamento dos problemas decorrentes do desamparo dos ex-escravizados (miséria sistemática, desemprego e desorganização social permanente). A lógica era de que o negro foi tornado livre, se não se esforçou para se igualar aos brancos, o problema era dele, e não dos brancos (Fernandes, 2007).
O mito da democracia racial é a principal ideologia racista do Brasil. Ela é sustentada pelas ideias de Gilberto Freyre que, ao interpretar a formação social brasileira representou um suposto equilíbrio de antagonismos entre raças, e ignorou as brutais violências contra os escravizados e, particularmente, a exploração sexual das mulheres negras e indígenas, por parte dos colonizadores brancos que está nas origens da nossa miscigenação. Com esse verniz positivo e romantizado do escravismo, Freyre projetou uma falsa noção do passado, e subsidiou os obstáculos às políticas de reparação à população negra.
Para Florestan Fernandes (2007), a mito da democracia racial foi útil em três perspectivas:
-
1. Atribuir aos próprios negros a total responsabilidade sobre a sua condição social e econômica;
-
2. Isentar os brancos de qualquer obrigação ou responsabilidade acerca da espoliação da população negra; e
-
3. Forjar uma consciência falsa da realidade racial brasileira.
Você já deve ter visto ou ouvido comentários como “Eu achava que perante a lei éramos todos iguais”, “Parem de nos dividir! Só existe uma raça, a humana!”.
Comentários como esses demonstram como ainda hoje nos deparamos corriqueiramente com o tema da nossa suposta democracia racial habitando o imaginário social. Você já ouviu falar sobre o mito da democracia racial no Brasil? É uma ideia profundamente enraizada em nossa sociedade, que tenta convencer que vivemos em harmonia racial.
Nos dois vídeos a seguir, vamos explorar como essa narrativa esconde desigualdades e perpetua um sistema injusto. Acompanhe e descubra por que a democracia racial no Brasil é, na verdade, um mito, um relato fantasioso e ficcional.
O que é o mito da democracia racial?
Convidamos o professor Daniel de Souza Campos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para responder essa pergunta. Clique no play para assistir o vídeo
[Vinheta de abertura]
Olá! Hoje, a gente tem a missão de tentar definir e discorrer um pouquinho sobre o mito da democracia racial. Você já ouviu falar sobre esse termo? Alguma vez, você já se pegou pensando que o Brasil vive uma harmonia entre as raças, ou seja, a raça branca, a raça negra, a população indígena, que todos nós vivemos de maneira igualitária nesse país? Para discorrer sobre o mito da democracia racial, é importante a gente levar em consideração os quase 400 anos de exploração da força de trabalho negra e reconhecer que, no pós-abolição da escravatura, as elites agrárias do Brasil irão construir e, de certa forma, tentar trazer uma imagem de um Brasil em desenvolvimento. E, para isso, essas elites vão precisar criar e pavimentar essa ideia de que todos nós vivemos num caldeirão e que não há diferenças, e que a cor da pele ou a situação econômica não vai dizer sobre a sua inserção em determinado espaço ou em determinado local nesse país.
Então, o mito da democracia racial, não por acaso ele vai ter essa palavra como um mito, porque ele não existe. E aí a gente consegue confrontar esse mito olhando para todo e qualquer indicador que vai falar sobre a condição de saúde da população negra, de acesso à educação, de acesso à política de assistência. O que a gente vai ver com isso? A gente vai ver que essa população, a partir da sua raça, cor e etnia, ela vai ocupar espaços de inferiorização, espaços de subalternização, seja no mercado de trabalho, seja no acesso às políticas públicas.
Então, pensar o mito da democracia racial é voltar para um Brasil, sobretudo em 1920, que precisava difundir e espraiar essa ideia de que aqui todos nós vivemos de forma igualitária. E aí, quando a gente olha do trabalho em saúde para o acesso das diversas populações ao serviço de saúde, a gente também consegue identificar que esse acesso não se dá de maneira igualitária. Então, defender a ideia de um mito de uma democracia racial, na verdade, é uma estratégia cunhada por uma sociabilidade que tem o racismo como base estrutural e estruturante para ocultar essa estrutura racista e dizer que aqui todos nós vivemos de maneira igualitária. Mas ao final desse curso, eu tenho certeza que todos vocês terão o letramento racial e a possibilidade de não mais acreditar ou sequer defender que no Brasil existe um mito de uma democracia racial.
[Vinheta de encerramento]
Agora que compreendemos a definição sobre O que é mito da democracia racial, convidamos o professor Marcos Vinícius Ribeiro de Araújo, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), para responder a seguinte pergunta:
Como o mito da democracia racial perpetua o racismo no SUS? E como desconstruí-lo?
[Vinheta de abertura]
O mito da democracia racial, como a ideologia que sustenta o racismo no Brasil, ele também não deixa o Sistema Único de Saúde imune a esse processo. Então é possível observar, na própria formulação e discussão sobre a política de saúde da população negra, muitas manifestações no sentido de entender que, uma vez sendo universal, não haveria necessidade de existir uma política específica para a população negra brasileira. Ou seja, parte-se de uma ideia, de uma ideologia, em que as condições de igualdade, do ponto de vista racial, estariam dadas para todas e todos brasileiros. As famosas frases do “independente da cor, independente da raça, não vejo raças, vejo pessoas”.
Então esse é um elemento que é bastante forte dentro dos processos de cuidado, de formação, de gestão em saúde, e ele vai se expressar de diferentes formas. Se a gente for pegar o exemplo do ponto de vista da gestão, a implantação do quesito raça e cor, a dificuldade de trabalhadores e trabalhadoras de saúde compreenderem a importância do quesito raça e cor no processo de elaboração, de formulação das ações de saúde, já nos dá um indicativo da força dessa ideologia dentro das práticas de saúde. Nos processos formativos, não é incomum trabalhadores e trabalhadoras afirmarem que durante todo seu processo formativo em saúde nunca tiveram qualquer componente curricular ou qualquer discussão sobre saúde da população negra ou sobre relações raciais. E quando isso aparece, aparece de forma recortada e fora do elemento como parte do processo de trabalho em saúde. E isso vai ter repercussões na própria ação, na própria prática desses trabalhadores e dessas trabalhadoras, que muitas vezes vão lidar com questões que são marcadamente delineadas pelo racismo, mas vai entender muitas vezes aquilo ali como uma condição de renda, de pobreza, sem considerar que a formação da pobreza no país é histórica e ela tem raízes no processo de passagem dos sistemas escravistas para o trabalho livre no Brasil.
Então há uma necessidade de compreender esses processos para reorientar essas ações em saúde, para que o trabalhador e a trabalhadora, o gestor, entenda porque é importante ter os dados segregados por raça e cor na hora de formular políticas que se direcionem para a equidade racial no Brasil. Então é importante que o trabalhador, a trabalhadora tenha desde a graduação processos formativos que impliquem, que incorporem isso dentro do seu processo de trabalho e não como algo que está relacionado à sensibilidade ou afinidade do trabalhador com os ditos temas sociais, como muitas vezes é colocado. O trabalhador de saúde como uma figura dura, que trabalha aspectos biológicos em busca de uma cura, mas que não vê esse processo permeado pelas relações raciais.
Ou até mesmo, a gente pode pensar também, a naturalização da composição racial dentro das profissões de saúde. Então as profissões consideradas socialmente de maior prestígio, composta por maioria, imensa maioria branca, e as profissões de saúde, os trabalhadores e as trabalhadoras de saúde, em trabalhos que são considerados de menor valor social composta por maioria negra. E isso ser naturalizado, ser visto como algo que está posto na sociedade de forma natural. Ou mesmo no cuidado em saúde, esses trabalhadores trazerem para o cuidado em saúde uma compreensão de como as relações raciais afetam ali o delineamento do curso clínico das próprias doenças. Então há uma necessidade de fato de desconstruir esse mito da democracia racial na saúde, através de processos formativos, educação permanente, mas sobretudo sob ações de gestão. Porque se nós estamos falando de antirracismo, nós estamos falando de prática, de ação. Ou seja, há uma constatação que o racismo existe, que o racismo está posto. E nesse sentido é preciso que haja alguma ação que enfrente isso.
A democracia racial no SUS faz exatamente o contrário. Ela mascara isso. E ela, no limite das questões, reduz as diferenças a desigualdades sociais baseadas em renda, sem que relações raciais tensionassem os processos de desenvolvimento das práticas de saúde. Então acho que é importante considerar esses elementos para justamente destravar parte importante daquilo que impede que a Política Nacional Integral de Saúde da População Negra aconteça de fato, se realize concretamente, que saia do papel e se torne de fato algo efetivo, que chegue na ponta, tanto para trabalhadores, para gestores, mas principalmente para usuários e usuárias negras desse país.
[Vinheta de encerramento]
Os professores Daniel e Marcos, nos ajudam a compreender o mito da democracia racial no Brasil e suas implicações sociais. Esperamos que o conteúdo tenha sido profícuo e que você consiga replicá-lo no seu ambiente de trabalho e com seus colegas.