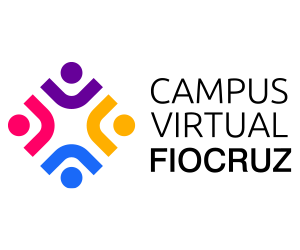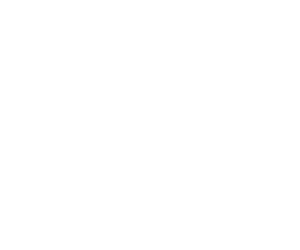Módulo 1 | Aula 1
letramento racial para trabalhadores do sus
Letramento racial para uma prática antirracista na saúde
Nos últimos anos vimos a questão racial e a luta antirracista ganhar maior visibilidade nos meios de comunicação. Embora a violência contra negros no Brasil seja antiga e rotineira, e histórica a mobilização dos movimentos negros, no ano de 2020 a agenda de combate ao racismo tomou lugar de destaque, a partir das desigualdades raciais escancaradas no enfrentamento da Covid-19, da repercussão internacional dos protestos em reação ao assassinato de Geoge Floyd por policiais nos Estados Unidos, e de uma série de episódios de violência e morte contra negros no país. É nesse contexto que é alavancada a discussão sobre como as pessoas podem e devem atuar na luta contra o racismo e a desigualdade racial. E assim foi fortalecida a ideia de que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista.
Acesse ao videocast "Letramento racial para uma prática antirracista na saúde" que irá explorar o letramento racial como uma prática de aprendizagem que prepara o indivíduo para enfrentar os desafios cotidianos relacionados à realidade racial. Ao longo desse recurso, discutiremos diversos temas essenciais para uma prática antirracista eficaz.
Mas o que compreendemos por antirracismo?
Para você, o que significa ser antirracista?
Inicialmente, abordaremos a questão da raça e do racismo, desmistificando a visão limitada que associa esses aspectos exclusivamente às pessoas negras, elucidando o papel de todos na luta contra o racismo. Analisaremos também o conceito de antirracismo e o que significa ser antirracista, destacando a importância da postura antirracista em nossas ações, nas práticas em saúde e em pensamentos diários.
Além disso, traremos à luz a necessidade de consciência e ação por parte das pessoas brancas para combater o racismo, bem como estratégias práticas para promover a igualdade racial em nossa sociedade, com foco especial na área da saúde, onde essas questões são fundamentais. Esperamos que este material contribua para ampliar seu entendimento sobre a complexidade das relações raciais e inspire ações concretas para a promoção da justiça e da igualdade racial. Vamos lá?
Assista o videocast a seguir, onde o professor Daniel de Souza Campos realiza a mediação, entrevistando a professora Letícia Batista da Silva, autora desse módulo e o professor convidado Emiliano de Camargo.
Videocast - Letramento racial para uma prática antirracista na saúde
[Vinheta de abertura]
[Entrevistador Daniel Campos] — Olá, sejam bem-vindos ao videocast “Letramento racial para uma prática antirracista na saúde” que faz parte do Curso de Letramento racial para trabalhadores do SUS. Eu sou Daniel Campos e hoje vamos abordar um tema de extrema relevância para as práticas de saúde em uma sociedade como a nossa, que é racialmente hierarquizada. O tema do nosso videocast é “Letramento racial como base para uma prática antirracista na área da saúde”
E para nos acompanhar nessa conversa, convidamos a professora Letícia Batista da Silva, Assistente Social, Doutora em Serviço Social, Professora-Pesquisadora em Saúde Pública da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz, tendo a questão racial como temática de pesquisa e ensino. Letícia também é docente da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense. Seja muito bem-vinda, professora Letícia! Fique à vontade para cumprimentar a quem nos assiste!
[Professora Letícia Batista] — Obrigada, Daniel. É uma alegria estar aqui, estarmos aqui juntos nessa manhã para discutir a questão da qualificação do debate sobre questão racial no SUS e o combate às desigualdades, essas práticas como práticas antirracistas. Obrigada, é um prazer.
[Entrevistador Daniel Campos] — A gente que agradece. E para enriquecer ainda mais a nossa conversa, temos a presença de uma referência para esse debate, o professor Emiliano Camargo, Psicólogo, Doutor em Psicologia Social e Docente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Emiliano pesquisa relações étnico-raciais na saúde mental, tendo publicado e organizado obras que são leituras imprescindíveis para quem busca entender e superar o racismo institucional na nossa saúde. Olá, professor, é um prazer tê-lo conosco!
[Professor Emiliano Camargo] — Eu que agradeço. Agradeço a quem nos assiste e nos escuta, mas muito a vocês dois, professora Letícia, professor Daniel. Espero que a gente tenha um encontro que possa abordar as questões de saúde, de saúde da população negra, práticas antirracistas nesse encontro de hoje. Muito obrigado!
[Entrevistador Daniel Campos] — Professora Letícia, nos últimos anos vimos uma crescente visibilidade da luta antirracista nos meios de comunicação. Embora a violência contra negros no Brasil e no mundo seja uma realidade antiga, há muito denunciada e enfrentada pelos movimentos negros, ela também é lamentavelmente rotineira. No ano de 2020, especialmente, a mobilização dos movimentos negros ganhou lugar de destaque. Esse destaque foi impulsionado por uma série de eventos que colocaram o combate ao racismo no centro das atenções. Com essa breve introdução e contextualização sobre o nosso tema, professora Letícia, você poderia trazer alguns exemplos que ganharam repercussões na luta contra o racismo durante este período?
[Professora Letícia Batista] — Claro. Quando a gente pensa no ano de 2020, a gente tem alguns marcos importantes para entender esse processo que nos traz até hoje. Um marco importante de destaque é justamente os efeitos da covid-19; e a covid-19 deixando explícita o conjunto de desigualdades sociais, especialmente esse encontro entre as desigualdades sociais e as desigualdades raciais. Então, a covid-19, ela é um marco importante para entender esse processo. Além disso, ainda em 2020, a gente vivenciou, observou, analisou o que foi o assassinato do George Floyd, que acontece um homem negro assassinado por policiais estadunidenses, policiais brancos, e os efeitos desse acontecimento em nível da sociedade estadunidense, mas também num nível, a gente diria, que expande, que vai além das fronteiras estadunidenses, que é o próprio movimento Vidas Negras Importam. Então, a gente tem, em termos gerais, dois elementos que exemplificam e que explicitam esse processo e os impactos desses dois momentos.
Quando a gente pensa no George Floyd, a gente pode também lembrar do que acontece com o João Alberto aqui no Brasil, no Carrefour, em Porto Alegre, o assassinato, algo muito próximo com o que aconteceu com o George Floyd. A gente também pode destacar, pensando em 2020 e a questão das mídias, os efeitos disso, desse combate e da chegada desse debate no espaço público através das mídias. Então, a gente também vai identificar, nos Estados Unidos, a agressão a jornalistas negros durante a cobertura do Vidas Negras Importam, algo que acontece também e aconteceu também no Brasil, especialmente na Avenida Paulista, com um jornalista do portal UOL, que também, ao filmar jovens brancos identificados como neonazistas, ele é agredido por policiais em São Paulo. Então, a gente tem um conjunto de elementos que são importantes para entender o processo que se inicia em 2020 em termos de debate público, mas não em termos históricos. Então, destacaria esses como alguns pontos para a gente pensar.
[Entrevistador Daniel Campos] — Obrigado, professora. Professor Emiliano, ainda nessa questão, mas para a gente trazer um pouco mais de outros elementos, eu gostaria de chamar atenção para o seguinte tema: ao discutirmos sobre raça e racismo é muito comum que se faça uma associação imediata à imagem de uma pessoa negra, como se o racismo fosse um problema único e exclusivamente dos negros. Por que isso acontece? O que é o antirracismo? E o que significa ser antirracista, professor?
[Professor Emiliano Camargo] — É interessante que não é apenas comum, como se fosse automático, como se ao pensarmos em raça, pensássemos imediatamente em negros, talvez indígenas, talvez nipo-brasileiros, que são os grupos racializados. Mas isso só acontece porque existe um grupo que é tomado como universal, como norma, como um sem raça, um sem cor. Então, quando eu significo alguém, fixo alguém, quase que exclusivamente à raça, então esse é o negro, é o preto, esse é o japonês, esse é o indígena, que preconceituosamente ainda diz “Esse é o índio”. Esse tipo de lógica faz com que um outro grupo, que é o grupo branco, seja considerado como norma, como sem raça, como sem cor. Então é como se apenas esses outros grupos fossem racializados e tivessem raça. Mas o curioso dessa dinâmica é que se faz isso, se fixa determinados grupos a raça, para que um outro grupo possa não ter raça. Então essa dinâmica é bastante sofisticada. Então é importante a gente perceber que, além de comum, é um pensamento automático.
Para a gente ir na contramão disso, a gente faz um processo, que é um processo interessantíssimo, que é de racializar para desracializar. Olha que curioso, hein? Racializar para desracializar. E esse é um processo longo, que leva tempo, a gente não faz isso de forma curta e imediata. Então imaginemos o seguinte, como eu disse que é um processo automático, imagina que a gente está vendo um homem, o branco, em um carro caro, num carrão. Uma frase como, “Você viu o carrão do brancão?” não faz sentido. Agora, se a gente está vendo um homem negro num carrão, automaticamente vem na nossa cabeça a seguinte frase: “Você viu o carrão do negão?”. Esse tipo de pensamento automático, ele só opera em nossa mente, porque a gente foi estruturado, levado a pensar dessa forma. Assim como, se a gente achar uma mulher inteligente, e essa mulher for branca, a gente não vai falar “nossa, que mulher branca inteligente”. Agora, se a gente considerar, num encontro com uma mulher negra, que ela é inteligente, a gente pode aditivar a cor, a gente vai ser levado a pensar “nossa, que mulher negra inteligente que eu encontrei hoje”. Isso significa que inteligência não está ligada àquele grupo racial. Se eu não preciso dizer mulher branca inteligente, é porque já está se considerando que as mulheres brancas são inteligentes.
O problema não é não dizer que mulher branca inteligente, mas é a gente pensar “que mulher negra inteligente”. Isso é o que deflagra, que mulheres negras não são automaticamente, em nosso pensamento, consideradas inteligentes. Então, com essa resposta, eu acho que eu apresento uma dinâmica de como opera o racismo, do que é o preconceito racial, porque o racismo é uma estrutura, o preconceito racial é esse tipo de pensamento que vem em nossa mente e, por vezes, a gente transmite e o modo de operação contra isso, certamente a gente vai ver nas próximas perguntas.
[Entrevistador Daniel Campos] — Obrigado, professor. Nesse sentido, sendo o racismo um problema complexo, como você bem pontuou, que estrutura todas as dimensões da sociedade e organiza a vida não somente de negros, mas também das pessoas brancas no nosso país, o que pode ser feito e qual é a nossa tarefa como parte desta sociedade racista?
[Professor Emiliano Camargo] — Essa pergunta é importantíssima. Obrigado, Daniel. Sem querer ser muito acadêmico, e não serei, mas estou lembrando de uma liderança, uma liderança que não é apenas da academia, ela está em vários espaços. Certamente, as alunas, os alunos, os alunes já ouviram falar em Angela Davis. Angela Davis tem uma frase célebre que diz que não basta a gente não ser racista, não querer ser racista, que a gente tem que ser antirracista. Então, essa frase de Angela indica que o antirracismo é uma atitude. Então, além do reconhecimento da branquitude, daquilo que eu falei há pouco, da racialização, esse grupo, que é o grupo que em geral se beneficia da lógica do racismo, é necessária uma ação, que é uma ação que passa desde as dimensões interpessoais do um a um, da relação aluno-alune, professor-alune etc. Mas, acima de tudo, o que pense os modos institucionais e também estruturais, os modos com que eu faço relação no meu bairro, com a minha família, com a minha sociedade, as relações afetivas. A gente já pensou quem que a gente deseja ficar, namorar? Qual é a cor dessas pessoas? A gente já olhou para o nosso grupo de trabalho, de sala de aula, se tem pessoas negras, se não tem, com quem que eu faço parceria para fazer aquele trabalho que a professora pediu. E se eu faço parceria, quem é que apresenta esse trabalho? Quem, em geral, é quem faz a apresentação do trabalho, ou quem inicia essa apresentação, ou quem finaliza? Enfim, esse tipo de dinâmica, quando a gente começa a racializar, a gente começa a ver que dá para ser antirracista no nosso dia a dia.
[Entrevistador Daniel Campos] — Nessa linha, professora Letícia, entendemos que o antirracismo está relacionado à ação. Você poderia trazer mais exemplos de estratégias práticas para promover igualdade racial em nossa sociedade, especificamente na área da saúde?
[Professora Letícia Batista] — Sim, claro, Dan. Acho que a fala do Emiliano nos ajuda também a fazer essas conexões, que acho que o pressuposto para qualquer debate é a gente entender que isso não é natural, que essa construção é uma construção histórica, social, econômica e também na dimensão das subjetividades. E isso dado como elementos coletivos, sociais e também como singulares, nessa relação entre totalidade, particularidade e singularidade. A gente faz esse esforço de tentar, especialmente nessa conversa aqui, de não ser academicista, mas a dimensão do acadêmico da ciência está posta nessa conversa e é importante que ela esteja posta. Por quê? Porque isso não é uma questão de opinião pessoal, essa é a questão de uma construção social histórica que vai desaguar nas instituições e no cotidiano, e por instituições não só as instituições de saúde, que estão aqui o objeto central dessa conversa, mas as instituições família, escola, todas as instituições. Então, esse automático que Emiliano falava também está presente nas instituições de saúde, então não é como se houvesse uma conversa filosófica que estivesse distante do cotidiano. E aí, um dos elementos para a gente entender isso é o fato de que a questão racial é um problema complexo. Então, ela é complexa, sem dúvida, é algo que está posto em termos globais e não está posta só na dimensão do capitalismo, a questão racial, ela atravessa historicamente, mas ela ganha nesse tempo histórico certas matizes e ganha certas particularidades, quando a gente pensa a formação social brasileira e as instituições brasileiras.
Então, não ser automático, e isso que o Emiliano falava é muito importante, eu quero reforçar isso, que a gente precisa racializar para desracializar. Então, e isso conversa muito com a questão da democracia, da ideia de uma democracia, de que somos todos iguais. Então, a gente tem essa conversa, somos todos iguais e o SUS é igualdade, o SUS é para todos, a educação é para todos. Não, nós não somos todos iguais. Então, ao mesmo tempo que socialmente, se a gente tiver como marco a Constituição de 88, olha, a gente constrói e é um avanço civilizatório fundamental, é um avanço civilizatório a Constituição de 88 em termos de proteção social, em termos de direitos. Mas o que está posto a partir desta norma, e isso está muito próximo do que acontece com a Política Nacional Integral da Saúde da População Negra, o que está posto na letra constitucional encontra um conjunto de entraves para se realizar. E esses entraves estão postos na ideia que Emiliano trazia, de que o automático é de que o não branco é racializado, e no outro elemento também, claro, dentre muitos outros, que a gente está citando alguns sem nenhuma ideia de dar conta de todos. Então, nesse processo que é automático, nesse processo que é de racializar para depois desracializar, num debate sobre o que é direito e o que é igualdade, que a igualdade está posta, a igualdade vem a sentidos muito distintos.
E quando a gente pensa, especialmente, as instituições de saúde, o SUS, acho que dá para a gente destacar pelo menos três dimensões de espaços onde a gente pode materializar essa construção, essa lógica antirracista. Então, o Emiliano citava Angela, se a gente citar, por exemplo, a Lélia também, vai dizer assim “a questão racial é uma questão não tratada”. Então esse também é um pressuposto para a gente discutir nas instituições. Ora, a gente está aqui trazendo o elemento que socialmente é não tratado. Ao ser não tratado, isso gera uma série de elementos, de mediações, para que a gente possa operacionalizar essas ações antirracistas. Em termos de saúde, a gente pode pensar, dentre outros, obviamente, aqui o que a gente está fazendo é só um exercício, né? Três dimensões, a dimensão da política, da gestão e do planejamento em saúde como uma dimensão importante, a dimensão dos processos formativos no âmbito da saúde e a dimensão do próprio cuidado, da atenção propriamente dita.
Quando a gente pensa nessa dimensão da política, do planejamento e da gestão, algo que já está posto, e quando a gente pensa o próprio histórico da política nacional de atenção às pessoas negras no Brasil, a gente vê que tu tens ali um marco de 2006, mas a efetivação apenas em termos legais em 2009. Então tu já tens aí um gap entre a aprovação do ponto de vista legislativo, o reconhecimento da importância, mas para a efetivação na norma legal a gente já tem ali três anos. E aí quando a gente pensa em 2009 e 2024, a gente identifica, obviamente, o fato de que esses gestores não implementaram os elementos que estão na política. Então, em termos de política, gestão e planejamento, o que a gente tem que materializar é a implementação do que já está posto, do que já foi discutido, do que já foi acordado e do que já foi negociado. Embora tenha sido acordado, negociado e reconhecido socialmente, as prefeituras, os estados, e aí em termos de saúde, é o que a gente está falando, e a própria União é ainda muito carente de elementos que avaliem e monitorem o que seria, então, a implementação dessa política a partir dos marcadores que já estão postos lá. Então, em termos de gestão, seria isso.
Em termos dos processos formativos, então, um elemento é a questão dos currículos, obviamente, a implementação de elementos, não só... E aí por que eu estou falando de implementação? Por que usar esse verbo? Porque não se trata só de colocar no currículo elementos de debate da questão racial. Se esses elementos não ganham materialidade, eles não ganham relação com esses estudantes, sejam eles estudantes de graduação, de pós-graduação, discursos técnicos de saúde, se a gente pensar em educação de forma mais ampla de todos os cursos, se eles não são implementados enquanto movimento, se eles são apenas descritos, a gente fica nessa dimensão de que existe racismo, porque existe racismo, a gente coloca esse elemento a ser discutido nos currículos, mas nós não estamos discutindo o antirracismo. Como que, a partir deste currículo, eu construo neste cotidiano institucional, seja a partir de um PET saúde, seja a partir de uma residência, seja a partir de um curso de pós-graduação, ou seja a partir de um curso técnico voltado a trabalhadores de saúde, como que eu construo essa materialidade? E aí, junto com a questão dos currículos, uma dimensão importante é a da pesquisa também. Como que eu utilizo? Porque ensino, nesse caso, o que a gente está pensando aqui, discutindo e defendendo, o ensino também não é autônomo de um processo de leitura da realidade. Então, como que eu coloco a questão da raça étnico-racial como um importante analisador dos processos sobre os quais eu desenvolvo problemas de pesquisa? Então, essa relação seria com relação aos processos formativos e com relação ao cuidado, propriamente dito, isso além do próprio quesito raça-cor, que também é algo importante para a gente pensar a gestão da política. Então o quesito raça-cor, quando a gente pensa o cuidado também, mas a gente precisa ir além do quesito raça-cor e entender quais são as necessidades sociais, subjetivas, objetivas, desses sujeitos que são sujeitos racializados. E ainda conseguirmos também, acho que avançar no sentido de customizar essas análises. Então, a gente tem aqui um conjunto de elementos básicos que a gente está tratando. Tem que partir de alguns pressupostos. Não é natural. O automático é o contrário disso. Sim, vai causar sofrimento para pessoas negras. Discutir esses elementos vai causar incômodo em pessoas brancas. Então, os pressupostos estão aí colocados. Mas ser negro, ser um usuário do Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul é diferente de ser um usuário do Sistema Único de Saúde no Rio de Janeiro, por exemplo, nas regiões do Norte. Então, assim, ser um usuário do Sistema de Saúde no Macapá. Então, veja, e aí não estamos dizendo o que é mais fácil, a gente está dizendo que o gestor e o trabalhador de saúde e o docente da saúde, em qualquer âmbito da sua formação, vai precisar incorporar a análise desta particularidade para tratá-la, porque não existe um mesmo negro, não existe ser negro apenas no Brasil, como se isso fosse um lugar posto. Não está posto. Ele está em movimento e as realidades regionais, as realidades institucionais, dialogam muito com isso.
Para encerrar, já estendendo um pouquinho, mas é para dialogar um pouco com o que o Emiliano falou também, que é: esses desafios estão postos todos e estão muito postos, principalmente porque pessoas, não só porque são pessoas brancas, mas pessoas sem letramento racial, sem consciência, nesse sentido, de um debate que promove um processo de desalienação da questão racial, digamos assim, de tornar isso como um fato, essas pessoas são os dirigentes das instituições. Então, essas pessoas, no caso brasileiro, o que a gente deseja é que isso se altere, que isso mude, mas essas pessoas estão à frente pensando a gestão dos processos institucionais, as políticas, sem levar em consideração uma centralidade da questão racial em relação sim com as questões de gênero, com as questões de classe, mais essa centralidade. Então, me parece que esse também é um elemento importante para a gente pensar a materialidade.
[Entrevistador Daniel Campos] — Perfeito, obrigado. Professor Emiliano, dialogando com alguns elementos que a professora Letícia trouxe nessa resposta anterior, como você acha que o trabalhador da saúde pode ter uma atuação antirracista diante das situações que comparecem ali no cotidiano das instituições, dos territórios, dos múltiplos territórios, das diferenças regionais, seja na gestão, na formação ou na assistência direta à saúde da população? É para isso que o letramento racial faz a diferença?
[Professor Emiliano Camargo] — A professora Letícia já deu uma série de pistas que talvez já responderiam à pergunta, mas num diálogo com o que foi trazido, o letramento racial é um caminho importantíssimo, mas ele é importantíssimo para além da dimensão da razão, para além da dimensão da consciência. Ele é uma etapa que faz uma certa e necessária alfabetização. Então, grosso modo, a gente sabe que não é mais para falar “denegrir”, que não é mais para falar “judiação”, que não é mais para dizer “criado-mudo”. E é importante que saibamos que essas palavras, esses termos, têm cunho racista, ou dizer a expressão “nas coxas”. Mas, ao mesmo tempo, não basta apenas um abecedário antirracista, não basta apenas um alfabeto antirracista. Isso não garante, não faz com que, no bojo das relações, as hierarquias raciais se modifiquem. Então, o letramento, ele é algo de suma importância. Mas, para a gente entender que ele inicia um processo, ele é um processo de alfabetização, mas assim como um dicionário, não basta a gente decorar um dicionário. Quem decora um dicionário não necessariamente sabe conversar. Você tem que conseguir, mais do que articular aquelas palavras, você tem que conseguir colocá-las em contexto.
Então, é um contexto antirracista que faz com que esse alfabeto possa sim ganhar prática antirracista. Atualmente no Brasil, em especial, a gente tem discutido letramento racial, isso tem me incomodado, numa dimensão ainda na chave de uma alfabetização. Ok, essa é uma das etapas, mas essa não é a etapa final, essa não é a panaceia. Então, eu estou dizendo isso porque, na minha primeira resposta da nossa conversa, eu disse que existem grupos que são racializados e grupos que, embora tenham raça, estão na condição de norma, de padrão, então, não estão racializados. Mas veja, a gente está aqui fazendo um videocast, uma conversa para uma escola, para uma universidade, para faculdades, para espaços de saber, de troca de conhecimento, educacionais. Um grupo racializado negro, para ter acesso a uma escola, a uma faculdade, a uma universidade, a um curso técnico, mesmo quando comparado a outro grupo, também racializado, como nipo-brasileiros, que comumente é chamado de um grupo japonês no Brasil, um grupo que, pelo quesito raça-cor, o quesito raça-cor é quando a gente faz aquela pergunta para as pessoas: “Qual é a sua cor?”, “Você se autodeclara da cor preta ou da cor parda, que compreende o grupo racial negro?”, “Você é da cor amarela, que compreende o grupo racial nipo-brasileiro?”, “Você é da cor branca, que compreende o grupo racial branco?”, “Ou você é de alguma etnia indígena? Se sim, de qual etnia?”. Esse é o quesito raça-cor. Quando alguém responde, “Eu sou da cor amarela” e alguém responde “Eu sou da cor parda ou preta””, por que apenas os da cor parda ou preta têm acesso, por exemplo, às ações afirmativas raciais, pensando em cotas raciais para a entrada na universidade? Porque embora o grupo que se autodeclarou amarelo seja um grupo racializado, essa raça não compreende necessariamente a dificuldade de acesso à entrada e permanência na universidade.
Então veja, não basta dizer “Ah, então os grupos são racializados”, como a professora Letícia já apontou, são racializados igualmente. É necessária uma análise sobre o objeto do que se pretende. Então, se o nosso papo aqui, por exemplo, é acesso e permanência à universidade, ser das cores preta e parda confere alguma diferença quando se pensa na cor branca e amarela para a entrada e permanência na universidade, mesmo que aquele da cor branca compreenda outras etnias, seja judeus, dentre outras etnias, que alguém da cor branca, da cor preta, da cor parda pode também compreender. Então, estou fazendo esse largo caminho aqui para dizer que a gente só compreende isso se letrando, mas a gente só muda a dinâmica disso se relacionando. Então, o letramento exige um passo que segue essa alfabetização, que é um passo relacional, um passo relacional antirracista e que, aí sim, compreenda ações afirmativas, ações que, enquanto as desigualdades sociais estiverem relacionadas às identidades raciais, então a gente sim, sustente as diferenças de políticas que considerem essas particularidades, que sustentam as diferenças e que então elas possam estar nomeadas, pensadas e praticadas para que a gente possa desenvolver comum, sustentando as diferenças. Essa parte ficou mais complexa, mas espero ter me feito entender.
[Entrevistador Daniel Campos] — Sim, com certeza. Ainda nessa esteira do letramento racial e buscando sintetizar a importância do letramento racial para as práticas antirracistas na saúde, professora Letícia, você poderia explicar o que se espera das pessoas que desenvolvem o letramento racial?
[Professora Letícia Batista] — Acho que também na esteira do que o professor Emiliano falava, primeiro a importância de não compreender, seja o letramento racial, seja o quesito raça-cor, seja cotas de acesso educacional, não entender esses elementos como elementos mecânicos, então não imprimir uma lógica positivista a esta compreensão, isso é algo em movimento, é no âmbito mesmo das relações. A gente está aqui falando de elementos onde há uma circulação entre as políticas sociais, mas há também uma relação com cultura, relação com instituição. Então, como a gente acha que é um pouco do que a gente está dizendo o tempo inteiro aqui: são questões complexas que não podem ser compreendidas, que ainda é um quesito anterior a serem o antirracismo. Tu precisa dessa compreensão dessas questões que são complexas e a incorporação de sua complexidade para pensar este cotidiano, no nosso caso aqui, dos trabalhadores e trabalhadoras do SUS. Então, existem alguns elementos que a gente pode destacar como centrais e convergentes. Acho que um deles é o fato de que o problema da questão racial é um problema social que estrutura, e aí entra como problema, porque a questão racial no Brasil, acho que é isso, especialmente a questão negra, é um problema social a ser, que merece, que solicita atuação.
Então, isso é algo que não é algo isolado, isso é um legado histórico que estrutura as nossas relações. Então, isso não é algo que tu pode mover de um lado para o outro de forma mecânica. Então, não é apenas um problema no sentido simples, mas algo que é legado social e historicamente, no caso brasileiro. Um outro elemento também, que me parece importante, é que tenhamos a compreensão, brancos, negros, amarelos, de que há sim um privilégio material e simbólico na condição de branco. Então há um privilégio. Então o letramento racial pode convergir também para a compreensão deste, que é um fato que se constrói historicamente, culturalmente, subjetivamente, na sociedade brasileira. Além disso, que eu acho que é algo também que a gente conversou desde o início do nosso bate-papo, de que essas estruturas não são naturais. O que a gente entende como automático e o que a gente vivencia como automático não é natural. Portanto, precisa ser desnaturalizado.
Então, o letramento racial pode também contribuir com o processo de desnaturalização desses processos sociais, históricos, culturais e subjetivos. Também, na mesma esteira do que Emiliano falava, o vocabulário, o letramento, a construção de um vocabulário racial, ele facilita a compreensão de alguns elementos que a gente precisa ter mesmo. O que é raça? O que é racismo? O que é ser antirracista? Que a gente precisa, mas são pontos que estão, acho que a gente poderia até dizer, não são etapas, são movimentos, são momentos, porque a etapa dá a sensação de que a gente vai superar uma e que aquilo tudo está incorporado, não está. Então a ideia positivista, para pensar, por exemplo, em planejamento e gestão de que existem etapas, essa ideia fica superada quando a gente entende o letramento racial nessa perspectiva que a gente está defendendo.
Então estes são momentos que, inclusive, às vezes, em determinadas instituições, tu vai ter que voltar para o momento anterior, porque os trabalhadores mudam, porque o perfil de usuários muda, porque uma chefia muda, porque um diretor de unidade muda. Então não são etapas superadas. Então, essa expectativa de que a gente tem alguma coisa mecânica, que a gente vai fazer, que vai resolver, essa é uma expectativa que sempre será frustrada. Essa é uma expectativa que não incorpora a realidade. Então, o letramento racial, esse vocabulário é fundamental, mas ele é sempre insuficiente, porque a realidade, especialmente, se a gente pensa em termos de usuários do Sistema Único de Saúde, a realidade social tem uma mobilidade contínua e que nos últimos anos tem se mostrado sempre em desfavor de trabalhadores e trabalhadoras, que no caso brasileiro, a gente está falando de uma maioria de pessoas pretas e pardas. Além disso, também é necessário que a gente traduza e interprete esses códigos e práticas racializadas que o Emiliano citava também. Então, o letramento racial nos ajuda, individualmente e institucionalmente, a decodificar esses elementos que racializam usuários e usuárias do Sistema Único de Saúde. E além disso, me parece que no caso brasileiro, a questão central do porquê o letramento racial, ainda que ele seja apenas algo que atravessa, mas ele é algo muito importante, a questão da mediação das desigualdades raciais com as desigualdades de classe, com as hierarquias de gênero e também com a ideia de uma heteronormatividade.
Então esses elementos, que também são elementos sociais postos no nosso cotidiano de forma muito exacerbada, a questão de classe, a questão de desigualdade de gênero e a questão da heteronormatividade, são elementos que estruturam também a nossa sociedade. Portanto, também não podem ser vistos isolados e também não dá para que a gente discuta e pense a questão racial por ela. Eu acho que aí é uma ideia também muito mecânica. A questão racial precisa ser pensada, discutida e analisada à luz de um conjunto de mediações que se colocam nessa particularidade e que se reconstroem de forma específica também nas subjetividades, sejam elas coletivas ou individuais.
[Entrevistador Daniel Campos] — Gente, estamos nos aproximando do final aqui do nosso videocast. Eu gostaria de agradecer muito a participação dos professores que contribuíram com conteúdos fundamentais para uma prática antirracista, mas também quero abrir aqui o momento para que vocês possam deixar uma mensagem final para os nossos alunos, alunas e alunes que estão realizando esse curso. O que a professora Letícia deixaria de mensagem final sobre esse tema tão importante e necessário que a gente discutiu aqui ao longo desse videocast?
[Professora Letícia Batista] — Primeiro agradecer imensamente a oportunidade de ter estado contigo, professor Daniel, contigo, professor Emiliano nessa conversa aqui. A expectativa de que essa conversa possa contribuir para que a gente tenha um debate qualificado sobre a questão racial que incorpore esse conjunto de elementos e que esses debates sociais cheguem às instituições, cheguem ao SUS, cheguem ao cotidiano, cheguem aos consultórios, cheguem nesses usuários. Que a gente possa também, ao fazer isso, contribuir com o combate às desigualdades sociais, entendendo que as desigualdades raciais são muito centrais no caso brasileiro. A expectativa, acho que também, de contribuir com a questão antirracista a partir de alguns pontos que a gente citou aqui. Acho que algo que eu gostaria de destacar é o fato de que esse letramento racial é algo também pessoal, tem uma responsabilidade dos indivíduos, é autoeducacional também. Então acho que a gente entender de que não se trata desse conjunto de dimensões sociais, mas que passam principalmente pela relação entre coletividade e individualidade.
Então assim, é necessário esta compreensão e que os trabalhadores e trabalhadoras do SUS e que os usuários e usuárias do SUS possam atravessar esse processo compreendendo que há também uma responsabilidade dos indivíduos e de que mais do que a gente pensar se a gente é ou não é racista, é ou não é antirracista, que a gente coloque isso em movimento, que a gente possa discutir “Como é que eu estou sendo?”, “Como é que eu estou sendo hoje?”, “Como é que eu estou sendo nas atividades que eu estou desempenhando hoje?”, “Como é que eu estou sendo na minha família?”, “Como é que eu estou sendo no meu espaço de coletividade, no meu trabalho, no transporte coletivo?”, “Como que eu estou sendo, estar sendo?”. Então acho que para encerrar e agradecer imensamente esse momento nosso coletivo juntos, é dizer que acho que a gente tem que se perguntar é como que a gente está sendo antirracista. Muito obrigada Dan, obrigada Emiliano.
[Entrevistador Daniel Campos] — Perfeito, professora. Professor Emiliano, suas palavras.
[Professor Emiliano Camargo] — Então, também quero agradecer, agradecer a vocês dois pela parceria, professora e professor, mas acima de tudo quem nos assiste e a Fiocruz que dá essa oportunidade de diálogo com tamanha qualidade. Agora quero destacar a capacidade, o rigor e a possibilidade que o Sistema Único de Saúde compreende para que façamos e possamos promover uma saúde que seja realmente antirracista, o SUS é uma plataforma que por si só já colaboraria para isso. A dificuldade de exercermos isso no SUS tem a ver com o tamanho do racismo estrutural que vivemos no Brasil, porque a montagem do SUS em si, ela já traz elementos fundamentais, preciosos para um exercício de relações equânimes e mais equitativas em saúde, inclusive na expansão racial. Me faço entender: a gente está falando de um sistema que parte universal, para todas, todos e todes. Isso não é algo qualquer, e por partir universal ele não está dizendo que somos todos iguais, pelo contrário, ele está dizendo que inclusive por não sermos todos iguais, esse sistema universal de saúde compreende políticas de saúde específicas, particulares, política de saúde da população negra, política de saúde da população LGBTQIAPN+, política de saúde de crianças e adolescentes, de homens, de mulheres, de idosos e assim vai.
Então veja, é um sistema de saúde universal que compreende as distintas particularidades para atingir as singularidades. Eu que venho do campo da saúde mental, a gente trabalha muito com as singularidades, os projetos, os planos, os projetos de saúde no SUS são singulares. Quando você chega na sua Unidade Básica de Saúde, tem um prontuário que tem o seu nome, que tem o seu número do SUS, tem o seu endereço, e por mais que no seu endereço tenha ali a sua avó, o seu avô, o seu pai, sua mãe, seus irmãos, ou outras pessoas que ali residem contigo, cada um vai ter um projeto de saúde que é singular. Então veja, se o meu irmão tem uma raça, uma cor distinta da minha, lá no projeto de saúde dele, isso é considerado diferente do meu, assim como se ele tem uma idade diferente da minha. Então se a gente consegue, aí eu vou voltar na coisa automática, na coisa de um certo automatismo, saber que o meu avô, por ter 70 anos, 60, 80 anos, precisa de um cuidado de saúde diferente do meu, que tenho 16, por que que eu não compreendo que o meu vizinho, que é branco, precisa de um cuidado diferente do meu, que sou negro, e diferente do meu outro vizinho, que é indígena?
Então, o que eu estou apontando aqui, é que para desautomatização disso, é necessário processos antirracistas, relacionais, que afirmem, como a professora Letícia apontou, que essas políticas são distintas, que a política de saúde do idoso, que é o que compreende esse período da época do meu avô, que eu vou chegar nela, mas que tem uma política de saúde pra população indígena, que eu não vou chegar nela, porque eu não sou indígena. Então, existem políticas que são, políticas que serão compreendidas por todos e todas, porque a gente vai passar, porque são etapas da vida, mas existem políticas que são processos relacionais da vida, eu não serei indígena, porque sou negro, mas eu vou me relacionar com a cultura indígena, com o vizinho indígena, com a aldeia indígena. Então, essa não é do outro, ela é minha, porque eu me relaciono com ela também. Isso é uma plataforma que o SUS já compreendeu de partida. Então, a defesa do SUS é uma defesa que tem tudo pra ser antirracista, se a gente, assim, se permitir. Mas para isso é necessário a gente entender que a gente também não usa o SUS igualmente, que embora o SUS seja universal pra todas, todos e todes, existem populações que são SUS dependentes. Por exemplo, aqui a gente tá tendo um bate-papo que focaliza um tanto mais a população negra, 100% de população negra, e a gente tá no país que é o segundo país do mundo com maior quantidade de negros desse sistema planeta Terra que a gente vive, a gente precisa compreender que no Brasil, nesse país de imensa maioria negra, 80% dos negros são SUS dependentes. Eu não estou dizendo daquela dependência que todo brasileiro tem, que é para a água chegar filtrada e potável na nossa casa. Essa, todos dependemos. Eu estou dizendo de um Papanicolau, de um Exame do Pezinho, de uma consulta para fazer uma higiene dental, para fazer coisas básicas, coisas que alguns outros grupos raciais, na sua maioria, conseguem optar por fazer dentro ou fora do SUS, existem grupos que dependem única e exclusivamente do SUS. Então, a defesa do SUS é para que a gente qualifique o SUS e assim possamos todos depender unicamente do SUS enquanto um sistema potente, capaz e amplamente servil para os distintos grupos raciais. Muito obrigado!
[Entrevistador Daniel Campos] — Perfeito, professor Emiliano, professora Letícia. Eu tenho certeza que as contribuições que vocês trouxeram foram extremamente valiosas para os nossos cursistas sobre letramento racial, sobretudo para trabalhadores do SUS. Para você que nos assiste, a gente espera que os conteúdos que foram aqui abordados por ambos os professores possam, de fato, apoiar as suas práticas no cotidiano. Eu acho que o que ficou muito bem demarcado aqui é esse movimento de buscar, procurar, entender e se aprofundar, sobretudo, nessa temática.
E aí, para finalizar a nossa conversa, a gente vai deixar aqui na tela um conjunto de referências, de indicações, de textos que, de alguma forma, podem aprofundar tudo o que os professores foram abordando aqui. Raça, racismo, práticas, letramento racial, antirracista. Então, essas referências ficam aí na tela para que vocês possam consultá-las e aprofundar esse debate, sobretudo pensando as práticas no cotidiano dos serviços. Até a próxima, um beijo e até lá!
[Vinheta de encerramento]
Você também pode acessar este recurso em formato de podcast.
Para isso, acesse:
Letramento racial para uma prática antirracista na saúde
[Vinheta de abertura]
[Entrevistador Daniel Campos] — Olá! Eu sou Daniel Campos e hoje vamos abordar um tema de extrema relevância para as práticas de saúde em uma sociedade como a nossa, que é racialmente hierarquizada. E para nos acompanhar nessa conversa, convidamos a professora Letícia Batista da Silva, Assistente Social, Doutora em Serviço Social, Professora-Pesquisadora em Saúde Pública da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz, tendo a questão racial como temática de pesquisa e ensino. Letícia também é docente da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense.
[Professora Letícia Batista] — Obrigada, Daniel. É uma alegria estar aqui, estarmos aqui juntos nessa manhã para discutir a questão da qualificação do debate sobre questão racial no SUS e o combate às desigualdades, essas práticas como práticas antirracistas. Obrigada, é um prazer.
[Entrevistador Daniel Campos] — A gente que agradece. E para enriquecer ainda mais a nossa conversa, temos a presença de uma referência para esse debate, o professor Emiliano Camargo, Psicólogo, Doutor em Psicologia Social e Docente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Emiliano pesquisa relações étnico-raciais na saúde mental, tendo publicado e organizado obras que são leituras imprescindíveis para quem busca entender e superar o racismo institucional na nossa saúde. Olá, professor, é um prazer tê-lo conosco!
[Professor Emiliano Camargo] — Eu que agradeço. Espero que a gente tenha um encontro que possa abordar as questões de saúde, de saúde da população negra, práticas antirracistas nesse encontro de hoje. Muito obrigado!
[Entrevistador Daniel Campos] — Professora Letícia, nos últimos anos vimos uma crescente visibilidade da luta antirracista nos meios de comunicação. Embora a violência contra negros no Brasil e no mundo seja uma realidade antiga, há muito denunciada e enfrentada pelos movimentos negros, ela também é lamentavelmente rotineira. No ano de 2020, especialmente, a mobilização dos movimentos negros ganhou lugar de destaque. Esse destaque foi impulsionado por uma série de eventos que colocaram o combate ao racismo no centro das atenções. Com essa breve introdução e contextualização sobre o nosso tema, professora Letícia, você poderia trazer alguns exemplos que ganharam repercussões na luta contra o racismo durante este período?
[Professora Letícia Batista] — Claro. Quando a gente pensa no ano de 2020, a gente tem alguns marcos importantes para entender esse processo que nos traz até hoje. Um marco importante de destaque é justamente os efeitos da covid-19; e a covid-19 deixando explícita o conjunto de desigualdades sociais, especialmente esse encontro entre as desigualdades sociais e as desigualdades raciais. Então, a covid-19, ela é um marco importante para entender esse processo. Além disso, ainda em 2020, a gente vivenciou, observou, analisou o que foi o assassinato do George Floyd, que acontece um homem negro assassinado por policiais estadunidenses, policiais brancos, e os efeitos desse acontecimento em nível da sociedade estadunidense, mas também num nível, a gente diria, que expande, que vai além das fronteiras estadunidenses, que é o próprio movimento Vidas Negras Importam. Então, a gente tem, em termos gerais, dois elementos que exemplificam e que explicitam esse processo e os impactos desses dois momentos.
Quando a gente pensa no George Floyd, a gente pode também lembrar do que acontece com o João Alberto aqui no Brasil, no Carrefour, em Porto Alegre, o assassinato, algo muito próximo com o que aconteceu com o George Floyd. A gente também pode destacar, pensando em 2020 e a questão das mídias, os efeitos disso, desse combate e da chegada desse debate no espaço público através das mídias. Então, a gente também vai identificar, nos Estados Unidos, a agressão a jornalistas negros durante a cobertura do Vidas Negras Importam, algo que acontece também e aconteceu também no Brasil, especialmente na Avenida Paulista, com um jornalista do portal UOL, que também, ao filmar jovens brancos identificados como neonazistas, ele é agredido por policiais em São Paulo. Então, a gente tem um conjunto de elementos que são importantes para entender o processo que se inicia em 2020 em termos de debate público, mas não em termos históricos. Então, destacaria esses como alguns pontos para a gente pensar.
[Entrevistador Daniel Campos] — Obrigado, professora. Professor Emiliano, ainda nessa questão, mas para a gente trazer um pouco mais de outros elementos, eu gostaria de chamar atenção para o seguinte tema: ao discutirmos sobre raça e racismo é muito comum que se faça uma associação imediata à imagem de uma pessoa negra, como se o racismo fosse um problema único e exclusivamente dos negros. Por que isso acontece? O que é o antirracismo? E o que significa ser antirracista, professor?
[Professor Emiliano Camargo] — É interessante que não é apenas comum, como se fosse automático, como se ao pensarmos em raça, pensássemos imediatamente em negros, talvez indígenas, talvez nipo-brasileiros, que são os grupos racializados. Mas isso só acontece porque existe um grupo que é tomado como universal, como norma, como um sem raça, um sem cor. Então, quando eu significo alguém, fixo alguém, quase que exclusivamente à raça, então esse é o negro, é o preto, esse é o japonês, esse é o indígena, que preconceituosamente ainda diz “Esse é o índio”. Esse tipo de lógica faz com que um outro grupo, que é o grupo branco, seja considerado como norma, como sem raça, como sem cor. Então é como se apenas esses outros grupos fossem racializados e tivessem raça. Mas o curioso dessa dinâmica é que se faz isso, se fixa determinados grupos a raça, para que um outro grupo possa não ter raça. Então essa dinâmica é bastante sofisticada. Então é importante a gente perceber que, além de comum, é um pensamento automático.
Para a gente ir na contramão disso, a gente faz um processo, que é um processo interessantíssimo, que é de racializar para desracializar. Olha que curioso, hein? Racializar para desracializar. E esse é um processo longo, que leva tempo, a gente não faz isso de forma curta e imediata. Então imaginemos o seguinte, como eu disse que é um processo automático, imagina que a gente está vendo um homem, o branco, em um carro caro, num carrão. Uma frase como, “Você viu o carrão do brancão?” não faz sentido. Agora, se a gente está vendo um homem negro num carrão, automaticamente vem na nossa cabeça a seguinte frase: “Você viu o carrão do negão?”. Esse tipo de pensamento automático, ele só opera em nossa mente, porque a gente foi estruturado, levado a pensar dessa forma. Assim como, se a gente achar uma mulher inteligente, e essa mulher for branca, a gente não vai falar “nossa, que mulher branca inteligente”. Agora, se a gente considerar, num encontro com uma mulher negra, que ela é inteligente, a gente pode aditivar a cor, a gente vai ser levado a pensar “nossa, que mulher negra inteligente que eu encontrei hoje”. Isso significa que inteligência não está ligada àquele grupo racial. Se eu não preciso dizer mulher branca inteligente, é porque já está se considerando que as mulheres brancas são inteligentes.
O problema não é não dizer que mulher branca inteligente, mas é a gente pensar “que mulher negra inteligente”. Isso é o que deflagra, que mulheres negras não são automaticamente, em nosso pensamento, consideradas inteligentes. Então, com essa resposta, eu acho que eu apresento uma dinâmica de como opera o racismo, do que é o preconceito racial, porque o racismo é uma estrutura, o preconceito racial é esse tipo de pensamento que vem em nossa mente e, por vezes, a gente transmite e o modo de operação contra isso, certamente a gente vai ver nas próximas perguntas.
[Entrevistador Daniel Campos] — Obrigado, professor. Nesse sentido, sendo o racismo um problema complexo, como você bem pontuou, que estrutura todas as dimensões da sociedade e organiza a vida não somente de negros, mas também das pessoas brancas no nosso país, o que pode ser feito e qual é a nossa tarefa como parte desta sociedade racista?
[Professor Emiliano Camargo] — Essa pergunta é importantíssima. Obrigado, Daniel. Sem querer ser muito acadêmico, e não serei, mas estou lembrando de uma liderança, uma liderança que não é apenas da academia, ela está em vários espaços. Certamente, as alunas, os alunos, os alunes já ouviram falar em Angela Davis. Angela Davis tem uma frase célebre que diz que não basta a gente não ser racista, não querer ser racista, que a gente tem que ser antirracista. Então, essa frase de Angela indica que o antirracismo é uma atitude. Então, além do reconhecimento da branquitude, daquilo que eu falei há pouco, da racialização, esse grupo, que é o grupo que em geral se beneficia da lógica do racismo, é necessária uma ação, que é uma ação que passa desde as dimensões interpessoais do um a um, da relação aluno-alune, professor-alune etc. Mas, acima de tudo, o que pense os modos institucionais e também estruturais, os modos com que eu faço relação no meu bairro, com a minha família, com a minha sociedade, as relações afetivas. A gente já pensou quem que a gente deseja ficar, namorar? Qual é a cor dessas pessoas? A gente já olhou para o nosso grupo de trabalho, de sala de aula, se tem pessoas negras, se não tem, com quem que eu faço parceria para fazer aquele trabalho que a professora pediu. E se eu faço parceria, quem é que apresenta esse trabalho? Quem, em geral, é quem faz a apresentação do trabalho, ou quem inicia essa apresentação, ou quem finaliza? Enfim, esse tipo de dinâmica, quando a gente começa a racializar, a gente começa a ver que dá para ser antirracista no nosso dia a dia.
[Entrevistador Daniel Campos] — Nessa linha, professora Letícia, entendemos que o antirracismo está relacionado à ação. Você poderia trazer mais exemplos de estratégias práticas para promover igualdade racial em nossa sociedade, especificamente na área da saúde?
[Professora Letícia Batista] — Sim, claro, Dan. Acho que a fala do Emiliano nos ajuda também a fazer essas conexões, que acho que o pressuposto para qualquer debate é a gente entender que isso não é natural, que essa construção é uma construção histórica, social, econômica e também na dimensão das subjetividades. E isso dado como elementos coletivos, sociais e também como singulares, nessa relação entre totalidade, particularidade e singularidade. A gente faz esse esforço de tentar, especialmente nessa conversa aqui, de não ser academicista, mas a dimensão do acadêmico da ciência está posta nessa conversa e é importante que ela esteja posta. Por quê? Porque isso não é uma questão de opinião pessoal, essa é a questão de uma construção social histórica que vai desaguar nas instituições e no cotidiano, e por instituições não só as instituições de saúde, que estão aqui o objeto central dessa conversa, mas as instituições família, escola, todas as instituições. Então, esse automático que Emiliano falava também está presente nas instituições de saúde, então não é como se houvesse uma conversa filosófica que estivesse distante do cotidiano. E aí, um dos elementos para a gente entender isso é o fato de que a questão racial é um problema complexo. Então, ela é complexa, sem dúvida, é algo que está posto em termos globais e não está posta só na dimensão do capitalismo, a questão racial, ela atravessa historicamente, mas ela ganha nesse tempo histórico certas matizes e ganha certas particularidades, quando a gente pensa a formação social brasileira e as instituições brasileiras.
Então, não ser automático, e isso que o Emiliano falava é muito importante, eu quero reforçar isso, que a gente precisa racializar para desracializar. Então, e isso conversa muito com a questão da democracia, da ideia de uma democracia, de que somos todos iguais. Então, a gente tem essa conversa, somos todos iguais e o SUS é igualdade, o SUS é para todos, a educação é para todos. Não, nós não somos todos iguais. Então, ao mesmo tempo que socialmente, se a gente tiver como marco a Constituição de 88, olha, a gente constrói e é um avanço civilizatório fundamental, é um avanço civilizatório a Constituição de 88 em termos de proteção social, em termos de direitos. Mas o que está posto a partir desta norma, e isso está muito próximo do que acontece com a Política Nacional Integral da Saúde da População Negra, o que está posto na letra constitucional encontra um conjunto de entraves para se realizar. E esses entraves estão postos na ideia que Emiliano trazia, de que o automático é de que o não branco é racializado, e no outro elemento também, claro, dentre muitos outros, que a gente está citando alguns sem nenhuma ideia de dar conta de todos. Então, nesse processo que é automático, nesse processo que é de racializar para depois desracializar, num debate sobre o que é direito e o que é igualdade, que a igualdade está posta, a igualdade vem a sentidos muito distintos.
E quando a gente pensa, especialmente, as instituições de saúde, o SUS, acho que dá para a gente destacar pelo menos três dimensões de espaços onde a gente pode materializar essa construção, essa lógica antirracista. Então, o Emiliano citava Angela, se a gente citar, por exemplo, a Lélia também, vai dizer assim “a questão racial é uma questão não tratada”. Então esse também é um pressuposto para a gente discutir nas instituições. Ora, a gente está aqui trazendo o elemento que socialmente é não tratado. Ao ser não tratado, isso gera uma série de elementos, de mediações, para que a gente possa operacionalizar essas ações antirracistas. Em termos de saúde, a gente pode pensar, dentre outros, obviamente, aqui o que a gente está fazendo é só um exercício, né? Três dimensões, a dimensão da política, da gestão e do planejamento em saúde como uma dimensão importante, a dimensão dos processos formativos no âmbito da saúde e a dimensão do próprio cuidado, da atenção propriamente dita.
Quando a gente pensa nessa dimensão da política, do planejamento e da gestão, algo que já está posto, e quando a gente pensa o próprio histórico da política nacional de atenção às pessoas negras no Brasil, a gente vê que tu tens ali um marco de 2006, mas a efetivação apenas em termos legais em 2009. Então tu já tens aí um gap entre a aprovação do ponto de vista legislativo, o reconhecimento da importância, mas para a efetivação na norma legal a gente já tem ali três anos. E aí quando a gente pensa em 2009 e 2024, a gente identifica, obviamente, o fato de que esses gestores não implementaram os elementos que estão na política. Então, em termos de política, gestão e planejamento, o que a gente tem que materializar é a implementação do que já está posto, do que já foi discutido, do que já foi acordado e do que já foi negociado. Embora tenha sido acordado, negociado e reconhecido socialmente, as prefeituras, os estados, e aí em termos de saúde, é o que a gente está falando, e a própria União é ainda muito carente de elementos que avaliem e monitorem o que seria, então, a implementação dessa política a partir dos marcadores que já estão postos lá. Então, em termos de gestão, seria isso.
Em termos dos processos formativos, então, um elemento é a questão dos currículos, obviamente, a implementação de elementos, não só... E aí por que eu estou falando de implementação? Por que usar esse verbo? Porque não se trata só de colocar no currículo elementos de debate da questão racial. Se esses elementos não ganham materialidade, eles não ganham relação com esses estudantes, sejam eles estudantes de graduação, de pós-graduação, discursos técnicos de saúde, se a gente pensar em educação de forma mais ampla de todos os cursos, se eles não são implementados enquanto movimento, se eles são apenas descritos, a gente fica nessa dimensão de que existe racismo, porque existe racismo, a gente coloca esse elemento a ser discutido nos currículos, mas nós não estamos discutindo o antirracismo. Como que, a partir deste currículo, eu construo neste cotidiano institucional, seja a partir de um PET saúde, seja a partir de uma residência, seja a partir de um curso de pós-graduação, ou seja a partir de um curso técnico voltado a trabalhadores de saúde, como que eu construo essa materialidade? E aí, junto com a questão dos currículos, uma dimensão importante é a da pesquisa também. Como que eu utilizo? Porque ensino, nesse caso, o que a gente está pensando aqui, discutindo e defendendo, o ensino também não é autônomo de um processo de leitura da realidade. Então, como que eu coloco a questão da raça étnico-racial como um importante analisador dos processos sobre os quais eu desenvolvo problemas de pesquisa? Então, essa relação seria com relação aos processos formativos e com relação ao cuidado, propriamente dito, isso além do próprio quesito raça-cor, que também é algo importante para a gente pensar a gestão da política. Então o quesito raça-cor, quando a gente pensa o cuidado também, mas a gente precisa ir além do quesito raça-cor e entender quais são as necessidades sociais, subjetivas, objetivas, desses sujeitos que são sujeitos racializados. E ainda conseguirmos também, acho que avançar no sentido de customizar essas análises. Então, a gente tem aqui um conjunto de elementos básicos que a gente está tratando. Tem que partir de alguns pressupostos. Não é natural. O automático é o contrário disso. Sim, vai causar sofrimento para pessoas negras. Discutir esses elementos vai causar incômodo em pessoas brancas. Então, os pressupostos estão aí colocados. Mas ser negro, ser um usuário do Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul é diferente de ser um usuário do Sistema Único de Saúde no Rio de Janeiro, por exemplo, nas regiões do Norte. Então, assim, ser um usuário do Sistema de Saúde no Macapá. Então, veja, e aí não estamos dizendo o que é mais fácil, a gente está dizendo que o gestor e o trabalhador de saúde e o docente da saúde, em qualquer âmbito da sua formação, vai precisar incorporar a análise desta particularidade para tratá-la, porque não existe um mesmo negro, não existe ser negro apenas no Brasil, como se isso fosse um lugar posto. Não está posto. Ele está em movimento e as realidades regionais, as realidades institucionais, dialogam muito com isso.
Para encerrar, já estendendo um pouquinho, mas é para dialogar um pouco com o que o Emiliano falou também, que é: esses desafios estão postos todos e estão muito postos, principalmente porque pessoas, não só porque são pessoas brancas, mas pessoas sem letramento racial, sem consciência, nesse sentido, de um debate que promove um processo de desalienação da questão racial, digamos assim, de tornar isso como um fato, essas pessoas são os dirigentes das instituições. Então, essas pessoas, no caso brasileiro, o que a gente deseja é que isso se altere, que isso mude, mas essas pessoas estão à frente pensando a gestão dos processos institucionais, as políticas, sem levar em consideração uma centralidade da questão racial em relação sim com as questões de gênero, com as questões de classe, mais essa centralidade. Então, me parece que esse também é um elemento importante para a gente pensar a materialidade.
[Entrevistador Daniel Campos] — Perfeito, obrigado. Professor Emiliano, dialogando com alguns elementos que a professora Letícia trouxe nessa resposta anterior, como você acha que o trabalhador da saúde pode ter uma atuação antirracista diante das situações que comparecem ali no cotidiano das instituições, dos territórios, dos múltiplos territórios, das diferenças regionais, seja na gestão, na formação ou na assistência direta à saúde da população? É para isso que o letramento racial faz a diferença?
[Professor Emiliano Camargo] — A professora Letícia já deu uma série de pistas que talvez já responderiam à pergunta, mas num diálogo com o que foi trazido, o letramento racial é um caminho importantíssimo, mas ele é importantíssimo para além da dimensão da razão, para além da dimensão da consciência. Ele é uma etapa que faz uma certa e necessária alfabetização. Então, grosso modo, a gente sabe que não é mais para falar “denegrir”, que não é mais para falar “judiação”, que não é mais para dizer “criado-mudo”. E é importante que saibamos que essas palavras, esses termos, têm cunho racista, ou dizer a expressão “nas coxas”. Mas, ao mesmo tempo, não basta apenas um abecedário antirracista, não basta apenas um alfabeto antirracista. Isso não garante, não faz com que, no bojo das relações, as hierarquias raciais se modifiquem. Então, o letramento, ele é algo de suma importância. Mas, para a gente entender que ele inicia um processo, ele é um processo de alfabetização, mas assim como um dicionário, não basta a gente decorar um dicionário. Quem decora um dicionário não necessariamente sabe conversar. Você tem que conseguir, mais do que articular aquelas palavras, você tem que conseguir colocá-las em contexto.
Então, é um contexto antirracista que faz com que esse alfabeto possa sim ganhar prática antirracista. Atualmente no Brasil, em especial, a gente tem discutido letramento racial, isso tem me incomodado, numa dimensão ainda na chave de uma alfabetização. Ok, essa é uma das etapas, mas essa não é a etapa final, essa não é a panaceia. Então, eu estou dizendo isso porque, na minha primeira resposta da nossa conversa, eu disse que existem grupos que são racializados e grupos que, embora tenham raça, estão na condição de norma, de padrão, então, não estão racializados. Mas veja, a gente está aqui fazendo uma conversa para uma escola, para uma universidade, para faculdades, para espaços de saber, de troca de conhecimento, educacionais. Um grupo racializado negro, para ter acesso a uma escola, a uma faculdade, a uma universidade, a um curso técnico, mesmo quando comparado a outro grupo, também racializado, como nipo-brasileiros, que comumente é chamado de um grupo japonês no Brasil, um grupo que, pelo quesito raça-cor, o quesito raça-cor é quando a gente faz aquela pergunta para as pessoas: “Qual é a sua cor?”, “Você se autodeclara da cor preta ou da cor parda, que compreende o grupo racial negro?”, “Você é da cor amarela, que compreende o grupo racial nipo-brasileiro?”, “Você é da cor branca, que compreende o grupo racial branco?”, “Ou você é de alguma etnia indígena? Se sim, de qual etnia?”. Esse é o quesito raça-cor. Quando alguém responde, “Eu sou da cor amarela” e alguém responde “Eu sou da cor parda ou preta””, por que apenas os da cor parda ou preta têm acesso, por exemplo, às ações afirmativas raciais, pensando em cotas raciais para a entrada na universidade? Porque embora o grupo que se autodeclarou amarelo seja um grupo racializado, essa raça não compreende necessariamente a dificuldade de acesso à entrada e permanência na universidade.
Então veja, não basta dizer “Ah, então os grupos são racializados”, como a professora Letícia já apontou, são racializados igualmente. É necessária uma análise sobre o objeto do que se pretende. Então, se o nosso papo aqui, por exemplo, é acesso e permanência à universidade, ser das cores preta e parda confere alguma diferença quando se pensa na cor branca e amarela para a entrada e permanência na universidade, mesmo que aquele da cor branca compreenda outras etnias, seja judeus, dentre outras etnias, que alguém da cor branca, da cor preta, da cor parda pode também compreender. Então, estou fazendo esse largo caminho aqui para dizer que a gente só compreende isso se letrando, mas a gente só muda a dinâmica disso se relacionando. Então, o letramento exige um passo que segue essa alfabetização, que é um passo relacional, um passo relacional antirracista e que, aí sim, compreenda ações afirmativas, ações que, enquanto as desigualdades sociais estiverem relacionadas às identidades raciais, então a gente sim, sustente as diferenças de políticas que considerem essas particularidades, que sustentam as diferenças e que então elas possam estar nomeadas, pensadas e praticadas para que a gente possa desenvolver comum, sustentando as diferenças. Essa parte ficou mais complexa, mas espero ter me feito entender.
[Entrevistador Daniel Campos] — Sim, com certeza. Ainda nessa esteira do letramento racial e buscando sintetizar a importância do letramento racial para as práticas antirracistas na saúde, professora Letícia, você poderia explicar o que se espera das pessoas que desenvolvem o letramento racial?
[Professora Letícia Batista] — Acho que também na esteira do que o professor Emiliano falava, primeiro a importância de não compreender, seja o letramento racial, seja o quesito raça-cor, seja cotas de acesso educacional, não entender esses elementos como elementos mecânicos, então não imprimir uma lógica positivista a esta compreensão, isso é algo em movimento, é no âmbito mesmo das relações. A gente está aqui falando de elementos onde há uma circulação entre as políticas sociais, mas há também uma relação com cultura, relação com instituição. Então, como a gente acha que é um pouco do que a gente está dizendo o tempo inteiro aqui: são questões complexas que não podem ser compreendidas, que ainda é um quesito anterior a serem o antirracismo. Tu precisa dessa compreensão dessas questões que são complexas e a incorporação de sua complexidade para pensar este cotidiano, no nosso caso aqui, dos trabalhadores e trabalhadoras do SUS. Então, existem alguns elementos que a gente pode destacar como centrais e convergentes. Acho que um deles é o fato de que o problema da questão racial é um problema social que estrutura, e aí entra como problema, porque a questão racial no Brasil, acho que é isso, especialmente a questão negra, é um problema social a ser, que merece, que solicita atuação.
Então, isso é algo que não é algo isolado, isso é um legado histórico que estrutura as nossas relações. Então, isso não é algo que tu pode mover de um lado para o outro de forma mecânica. Então, não é apenas um problema no sentido simples, mas algo que é legado social e historicamente, no caso brasileiro. Um outro elemento também, que me parece importante, é que tenhamos a compreensão, brancos, negros, amarelos, de que há sim um privilégio material e simbólico na condição de branco. Então há um privilégio. Então o letramento racial pode convergir também para a compreensão deste, que é um fato que se constrói historicamente, culturalmente, subjetivamente, na sociedade brasileira. Além disso, que eu acho que é algo também que a gente conversou desde o início do nosso bate-papo, de que essas estruturas não são naturais. O que a gente entende como automático e o que a gente vivencia como automático não é natural. Portanto, precisa ser desnaturalizado.
Então, o letramento racial pode também contribuir com o processo de desnaturalização desses processos sociais, históricos, culturais e subjetivos. Também, na mesma esteira do que Emiliano falava, o vocabulário, o letramento, a construção de um vocabulário racial, ele facilita a compreensão de alguns elementos que a gente precisa ter mesmo. O que é raça? O que é racismo? O que é ser antirracista? Que a gente precisa, mas são pontos que estão, acho que a gente poderia até dizer, não são etapas, são movimentos, são momentos, porque a etapa dá a sensação de que a gente vai superar uma e que aquilo tudo está incorporado, não está. Então a ideia positivista, para pensar, por exemplo, em planejamento e gestão de que existem etapas, essa ideia fica superada quando a gente entende o letramento racial nessa perspectiva que a gente está defendendo.
Então estes são momentos que, inclusive, às vezes, em determinadas instituições, tu vai ter que voltar para o momento anterior, porque os trabalhadores mudam, porque o perfil de usuários muda, porque uma chefia muda, porque um diretor de unidade muda. Então não são etapas superadas. Então, essa expectativa de que a gente tem alguma coisa mecânica, que a gente vai fazer, que vai resolver, essa é uma expectativa que sempre será frustrada. Essa é uma expectativa que não incorpora a realidade. Então, o letramento racial, esse vocabulário é fundamental, mas ele é sempre insuficiente, porque a realidade, especialmente, se a gente pensa em termos de usuários do Sistema Único de Saúde, a realidade social tem uma mobilidade contínua e que nos últimos anos tem se mostrado sempre em desfavor de trabalhadores e trabalhadoras, que no caso brasileiro, a gente está falando de uma maioria de pessoas pretas e pardas. Além disso, também é necessário que a gente traduza e interprete esses códigos e práticas racializadas que o Emiliano citava também. Então, o letramento racial nos ajuda, individualmente e institucionalmente, a decodificar esses elementos que racializam usuários e usuárias do Sistema Único de Saúde. E além disso, me parece que no caso brasileiro, a questão central do porquê o letramento racial, ainda que ele seja apenas algo que atravessa, mas ele é algo muito importante, a questão da mediação das desigualdades raciais com as desigualdades de classe, com as hierarquias de gênero e também com a ideia de uma heteronormatividade.
Então esses elementos, que também são elementos sociais postos no nosso cotidiano de forma muito exacerbada, a questão de classe, a questão de desigualdade de gênero e a questão da heteronormatividade, são elementos que estruturam também a nossa sociedade. Portanto, também não podem ser vistos isolados e também não dá para que a gente discuta e pense a questão racial por ela. Eu acho que aí é uma ideia também muito mecânica. A questão racial precisa ser pensada, discutida e analisada à luz de um conjunto de mediações que se colocam nessa particularidade e que se reconstroem de forma específica também nas subjetividades, sejam elas coletivas ou individuais.
[Entrevistador Daniel Campos] — Gente, estamos nos aproximando do final. Eu gostaria de agradecer muito a participação dos professores que contribuíram com conteúdos fundamentais para uma prática antirracista, mas também quero abrir aqui o momento para que vocês possam deixar uma mensagem final para os nossos alunos, alunas e alunes que estão realizando esse curso. O que a professora Letícia deixaria de mensagem final sobre esse tema tão importante e necessário?
[Professora Letícia Batista] — Primeiro agradecer imensamente a oportunidade de ter estado contigo, professor Daniel, contigo, professor Emiliano nessa conversa aqui. A expectativa de que essa conversa possa contribuir para que a gente tenha um debate qualificado sobre a questão racial que incorpore esse conjunto de elementos e que esses debates sociais cheguem às instituições, cheguem ao SUS, cheguem ao cotidiano, cheguem aos consultórios, cheguem nesses usuários. Que a gente possa também, ao fazer isso, contribuir com o combate às desigualdades sociais, entendendo que as desigualdades raciais são muito centrais no caso brasileiro. A expectativa, acho que também, de contribuir com a questão antirracista a partir de alguns pontos que a gente citou aqui. Acho que algo que eu gostaria de destacar é o fato de que esse letramento racial é algo também pessoal, tem uma responsabilidade dos indivíduos, é autoeducacional também. Então acho que a gente entender de que não se trata desse conjunto de dimensões sociais, mas que passam principalmente pela relação entre coletividade e individualidade.
Então assim, é necessário esta compreensão e que os trabalhadores e trabalhadoras do SUS e que os usuários e usuárias do SUS possam atravessar esse processo compreendendo que há também uma responsabilidade dos indivíduos e de que mais do que a gente pensar se a gente é ou não é racista, é ou não é antirracista, que a gente coloque isso em movimento, que a gente possa discutir “Como é que eu estou sendo?”, “Como é que eu estou sendo hoje?”, “Como é que eu estou sendo nas atividades que eu estou desempenhando hoje?”, “Como é que eu estou sendo na minha família?”, “Como é que eu estou sendo no meu espaço de coletividade, no meu trabalho, no transporte coletivo?”, “Como que eu estou sendo, estar sendo?”. Então acho que para encerrar e agradecer imensamente esse momento nosso coletivo juntos, é dizer que acho que a gente tem que se perguntar é como que a gente está sendo antirracista. Muito obrigada Dan, obrigada Emiliano.
[Entrevistador Daniel Campos] — Perfeito, professora. Professor Emiliano, suas palavras.
[Professor Emiliano Camargo] — Então, também quero agradecer, agradecer a vocês dois pela parceria e a Fiocruz que dá essa oportunidade de diálogo com tamanha qualidade. Agora quero destacar a capacidade, o rigor e a possibilidade que o Sistema Único de Saúde compreende para que façamos e possamos promover uma saúde que seja realmente antirracista, o SUS é uma plataforma que por si só já colaboraria para isso. A dificuldade de exercermos isso no SUS tem a ver com o tamanho do racismo estrutural que vivemos no Brasil, porque a montagem do SUS em si, ela já traz elementos fundamentais, preciosos para um exercício de relações equânimes e mais equitativas em saúde, inclusive na expansão racial. Me faço entender: a gente está falando de um sistema que parte universal, para todas, todos e todes. Isso não é algo qualquer, e por partir universal ele não está dizendo que somos todos iguais, pelo contrário, ele está dizendo que inclusive por não sermos todos iguais, esse sistema universal de saúde compreende políticas de saúde específicas, particulares, política de saúde da população negra, política de saúde da população LGBTQIAPN+, política de saúde de crianças e adolescentes, de homens, de mulheres, de idosos e assim vai.
Então veja, é um sistema de saúde universal que compreende as distintas particularidades para atingir as singularidades. Eu que venho do campo da saúde mental, a gente trabalha muito com as singularidades, os projetos, os planos, os projetos de saúde no SUS são singulares. Quando você chega na sua Unidade Básica de Saúde, tem um prontuário que tem o seu nome, que tem o seu número do SUS, tem o seu endereço, e por mais que no seu endereço tenha ali a sua avó, o seu avô, o seu pai, sua mãe, seus irmãos, ou outras pessoas que ali residem contigo, cada um vai ter um projeto de saúde que é singular. Então veja, se o meu irmão tem uma raça, uma cor distinta da minha, lá no projeto de saúde dele, isso é considerado diferente do meu, assim como se ele tem uma idade diferente da minha. Então se a gente consegue, aí eu vou voltar na coisa automática, na coisa de um certo automatismo, saber que o meu avô, por ter 70 anos, 60, 80 anos, precisa de um cuidado de saúde diferente do meu, que tenho 16, por que que eu não compreendo que o meu vizinho, que é branco, precisa de um cuidado diferente do meu, que sou negro, e diferente do meu outro vizinho, que é indígena?
Então, o que eu estou apontando aqui, é que para desautomatização disso, é necessário processos antirracistas, relacionais, que afirmem, como a professora Letícia apontou, que essas políticas são distintas, que a política de saúde do idoso, que é o que compreende esse período da época do meu avô, que eu vou chegar nela, mas que tem uma política de saúde pra população indígena, que eu não vou chegar nela, porque eu não sou indígena. Então, existem políticas que são, políticas que serão compreendidas por todos e todas, porque a gente vai passar, porque são etapas da vida, mas existem políticas que são processos relacionais da vida, eu não serei indígena, porque sou negro, mas eu vou me relacionar com a cultura indígena, com o vizinho indígena, com a aldeia indígena. Então, essa não é do outro, ela é minha, porque eu me relaciono com ela também. Isso é uma plataforma que o SUS já compreendeu de partida. Então, a defesa do SUS é uma defesa que tem tudo pra ser antirracista, se a gente, assim, se permitir. Mas para isso é necessário a gente entender que a gente também não usa o SUS igualmente, que embora o SUS seja universal pra todas, todos e todes, existem populações que são SUS dependentes. Por exemplo, aqui a gente tá tendo um bate-papo que focaliza um tanto mais a população negra, 100% de população negra, e a gente tá no país que é o segundo país do mundo com maior quantidade de negros desse sistema planeta Terra que a gente vive, a gente precisa compreender que no Brasil, nesse país de imensa maioria negra, 80% dos negros são SUS dependentes. Eu não estou dizendo daquela dependência que todo brasileiro tem, que é para a água chegar filtrada e potável na nossa casa. Essa, todos dependemos. Eu estou dizendo de um Papanicolau, de um Exame do Pezinho, de uma consulta para fazer uma higiene dental, para fazer coisas básicas, coisas que alguns outros grupos raciais, na sua maioria, conseguem optar por fazer dentro ou fora do SUS, existem grupos que dependem única e exclusivamente do SUS. Então, a defesa do SUS é para que a gente qualifique o SUS e assim possamos todos depender unicamente do SUS enquanto um sistema potente, capaz e amplamente servil para os distintos grupos raciais. Muito obrigado!
[Entrevistador Daniel Campos] — Perfeito, professor Emiliano, professora Letícia. Eu tenho certeza que as contribuições que vocês trouxeram foram extremamente valiosas para os nossos cursistas sobre letramento racial, sobretudo para trabalhadores do SUS. A gente espera que os conteúdos que foram aqui abordados por ambos os professores possam, de fato, apoiar as suas práticas no cotidiano. Eu acho que o que ficou muito bem demarcado aqui é esse movimento de buscar, procurar, entender e se aprofundar, sobretudo, nessa temática. Até a próxima, um beijo e até lá!
[Vinheta de encerramento]
O letramento racial envolve (Twine; Steinbulgler, 2006; Shucman, 2012):
-
Reconhecer o racismo como um problema social atual, e não como um legado histórico;
-
Reconhecer que há privilégio simbólico e material em ser identificado como branco;
-
Entender que as identidades raciais são aprendidas;
-
Possuir vocabulário racial que facilite a discussão de raça, racismo e antirracismo;
-
Traduzir e interpretar códigos e práticas racializadas;
-
Analisar o racismo em suas mediações com as desigualdades de classe, hierarquias de gênero e heteronormatividade.
Esses são os seis fundamentos do letramento racial. Eles podem ser adotados tanto por indivíduos brancos, como por negras e negros, além de outros grupos que são negativamente racializados.